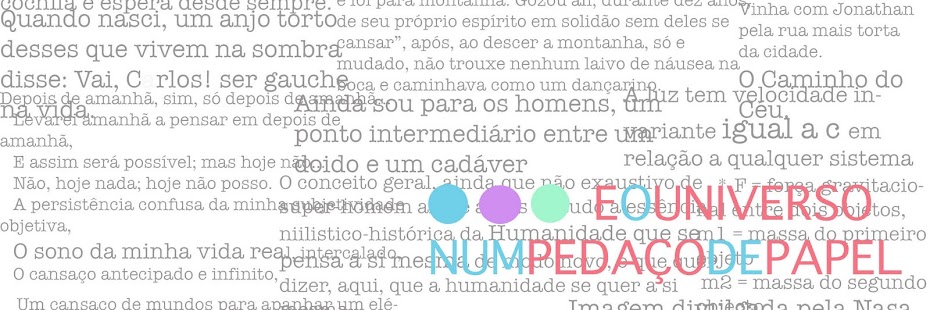Ela separava as roupas de maneira metódica. Por baixo as calças; depois os vestidos; em cima as camisetas enroladas em pequenos rolinhos; nas laterais uma toalha (pra não ter que ficar usando a dele); os sapatos (bem arrumados dentro de sacolas de mercado); e por último pequenas necessaires com coisas muito necessárias ao seu dia-a-dia: maquiagens, escova de dente, escova de cabelo, seu perfume novo, uma porção de bijuterias. Tomava cuidado pra escolher roupas que a sua memória ainda lembrava que ele gostava. Lembrou-se do vestido preto que ele um dia elogiou, da saia colorida, de uma camiseta que tinham comprado juntos, de uma camisa branca. Lembrou-se do óculos escuro que ele não gostava tanto assim e deixou em cima da escrivaninha. Colocou um livro na bolsa de mão, para caso de alguma eventualidade. "Sempre bom ter um livro na bolsa", pensou. Pro caso de ter que esperar ele voltar de algum lugar, pra quando ele tiver outros afazeres. Sempre bom ter um livro. Por último colocou na bolsa o computador, os cabos todos do computador, o tocador de mp3. Checou três vezes pra ver se não tinha mesmo esquecido o celular, fechou a bolsa e ficou esperando ele chegar. Ele tinha combinado que passaria de carro em sua casa e iriam passar três ou quatro dias na casa dele na cidade grande. Ela não sabia muito bem porque tinha aceitado o convite, mas achou que era coisa montada pelo destino. As curvas daquela estrada tinham cheiro de ilusão. Ilusão de quê não sabia bem. Sentia de algum jeito, numa dessas inquietações que nos vem sem mais e nem porquê, que aquela seria uma viagem meio abismática. Abismática é certamente uma palavra que não existe na língua portuguesa, mas deveria. Se há uma coisa que as relações humanas gostam de fazer é se encaminhar pro abismo. Aquela seria uma viagem abismática. Uma dessas viagens que apontam para o abismo. E ela sabia, como todos nós sabemos, que uma vez colocado em contato com o abismo só existem duas possibilidades: a morte, ou voltar pra trás. Ela sentia que, de algum modo, aquela viagem os faria retroceder tudo aquilo que tinham construído, ou os faria morrer de algum jeito trágico. Segurava a única mala com as mãos suando. Ele chegaria logo. Chegaria logo e a encararia com olhar de desde-sempre. Ela já tinha percebido que, de uns tempos pra cá, ele a olhava como um desses objetos que sempre estiveram e sempre estarão ali. Olhar de desimportância. Tinha aceitado a viagem porque queria olhar pra dentro desses olhos que a fitavam com desimportância. Queria entender dentro daqueles olhos azuis onde é que ela tinha perdido o encanto. Porque só podia ter sido isso: uma perda rápida e sem explicação do encanto que antes havia e agora não havia mais. Segurava as malas e engolia desencantamento. Sabia que ele chegaria a qualquer momento e a indagaria sobre ter esquecido alguma coisa. Era por isso que já tinha checado tudo. Ela o esperava. Na frente da casa onde tinha vivido mais da metade da sua vida segurava uma mala e aguardava por uma viagem abismática. Tinha medo que aquela fosse a última viagem. Não sabia porque tinha aceitado o convite, mas de uns tempos pra cá tinha começado a encasquetar com essas coisas de destino. Se ele havia chamado é porque havia um porquê. Talvez as curvas da estrada mandassem todo essa inquietação pra longe. Talvez o amor fosse mesmo esse carro disposto a explodir na próxima curva (se é que podiam chamar isso de amor).
Ele chegou, lhe deu um beijo morno, lhe pediu as malas. Ela lhe entregou as malas. Não queria dizer nada porque não havia nada a ser dito. Ele perguntou se ela não havia esquecido nada e ela disse que não, dessa vez não, tinha checado umas porções de vezes a mala, a bolsa, as necessaires. Depois lhe veio uma dúvida se tinha mesmo colocado as escovas de dente. Não quis dizer nada. Qualquer coisa comprava uma escova de dentes numa dessas paradas no meio da estrada, ou na farmácia logo na esquina da casa dele. Os objetos são coisas fáceis de repor. Houvesse uma loja para repor sentimentos, talvez ela tivesse cartão-fidelidade. Ficou pensando por alguns momentos o quão engraçado seria ter uma loja de repor sentimentos. Pensou sozinha que talvez fosse bom. Talvez band-aids pra alma, ou para as sucessões de mal entendidos que vão criando ferida em qualquer relacionamento que continue se segurando nas estruturas nada sólidas da vida. De quantos band-aids ele precisaria para parar de olha-la com esse olhar de quem não se encanta mais? Cinco, seis, talvez uma caixa? Vez ou outra ela percebia que ele lhe olhava com menos empolgação do que olhava pra tv quando estava passando um programa chato. Da última vez que se viram, há algum tempo atrás, ela lembra perfeitamente dos olhos dele vidrados num desses programas péssimos do domingo enquanto ela se encolhia no peito dele feito peso morto. Um peso morto encostado em um peito que não quer aquela cabeça dela ali. Talvez quisesse outra coisa. Ela sentia saudades dos domingos felizes das primeiras semanas, das urgências, da necessidade dele em permanecer sempre com um pedaço do corpo junto ao dela para que, de algum modo, estivessem sempre ligados de maneira a formarem uma coisa só durante o período que estivessem juntos. Nas últimas semanas nada disso existia e ela ficava ali, como um abajur que já não ilumina bem, ou como aquela pizza requentada que já teve a sua graça, mas agora só serve pra saciar essas fomes meio insistentes que dão na gente de madrugada. Ele trocava insistentemente as músicas do cd do carro enquanto ela via a cidade onde haviam se conhecido sumir pela janela. O primeiro beijo tinha acontecido na porta de uma sorveteria, há mais de cinco anos atrás. Não era um relacionamento linear. No começo, logo que se conheceram, haviam se encantado perdidamente um pelo outro, em um desses encantamentos inevitáveis que acontece com quase todo mundo bem mais que uma vez na vida. Ele, mais velho, já tinha ido morar na cidade grande e começado a faculdade, enquanto ela permanecia por entre as esquinas de sua cidade de interior tentando terminar o último ano do colegial. Ele parecia ter surgido pra tirar dela aquele enfado que a vida tem toda vez que começa a se enfiar em uma rotina que não traz nada de novo. Passarm juntos o mês das férias dele. Conversavam todos os dias no café do centro e quando chegavam em casa ainda se ligavam porque o assunto parecia um daqueles assuntos infinitos que tinha que continuar sem muitas interrupções, ou podia se perder. No outro mês ele voltou pra cidade grande e sentiam urgência. A internet ainda não era tudo isso que é hoje e eles se mandavam inúmeras mensagens de celular. Se ligavam a noite. Contavam os dias no calendário para a próxima visita. Até que não houveram mais visitas porque a vida tem seu caráter abismático. Ela passou no vestibular em uma outra cidade e eles decidiram que talvez o tal do destino não estivesse lá muito empolgado com essa história de amor entre os dois. Choraram umas semanas. Se ligaram por alguns meses. Aí se esqueceram, se lembraram, se lembraram sem se contar, namoraram outras pessoas, desanamoraram, se lembraram, até que no último ano se encontraram, por acaso, numa festa qualquer. Se sorriram, conversaram, se estranharam e se encantaram de novo. Ela achou que era coisa montada pelo destino. Tinha encasquetado com essas coisas de destino. Encasquetar com o destino, dizem, é coisa de quem já enjoou da vida ser assim, esse grande caos, e agora espera que os acontecimentos tenham pelo menos um pouco de sentido. A vida continua um grande caos e os acontecimentos não fazem nenhum sentido, mas é melhor não acreditar assim. Ela acreditava que o reencontro era coisa montada pelo destino. Ele acreditava que era mais uma dessas improbabilidades do grande caos do qual é formado a vida. E assim ela ia olhando pela janela até que avistou a tal sorveteria onde haviam dado o primeiro beijo.
Ela perguntou se ele ainda lembrava dali. Ele disse que sim, sem demonstrar nenhum entusiasmo maior, a não ser um sorriso desses que não são exatamente de alegria, mas que também não chegam a ser somente por educação. Depois emendou que os sorvetes dali eram bem melhores há alguns anos atrás. "As coisas mudam de um jeito que a gente não consegue acompanhar", ela respondeu enfática. "As coisas mudam", ele repetiu baixinho. Se olharam e sorriram com dentes de angústia. O tempo não lhes havia sido assim tão generoso quando deveria. Talvez o destino nem sempre montasse coisas maravilhosas. Talvez o destino às vezes só montasse coisas. Coisas deixadas ao acaso que não fazem lá muito sentido. Ele continuava a dirigir e ela cantava sem muita empolgação as poucas músicas que ele deixava tocar até o fim. Ele parecia ansioso. Dessas ansiedades que fazem a gente achar que esperar um minuto e meio para o fim de uma canção é tempo demais. Mudava as músicas em tempo recorde. Às vezes ela reclamava e dizia que daquela ela gostava, que era pra deixar. Aí ele voltava a música, meio contrariado. Pouco conversavam. Os poucos assuntos que ela puxava pareciam arrastados e então ela se explicava por longos períodos enquanto ele respondia uma frase curta. Ela e sua eloqüência se sentiam menosprezadas pelas frases curtas dele e então se calavam, ou resolviam cantarolar algumas das canções do rádio do carro. A única função dela no banco do passageiro parecia ser a de separar as moedas para o pedágio. Vez ou outra ela colocava a mão na coxa dele e ele rapidamente tirava dizendo que "essas distrações atrapalham pra dirigir na estrada e eu acho que você não quer um acidente". Ela tirava a mão da coxa dela contrariada e encarava a estrada com olhares de choro que ele não percebia. "Talvez eu quisesse sim um acidente. Quem sabe com a eminência da morte você me fala alguma coisa", ela pensou baixinho. Ele indagou o que ela tinha falado, ela disse que não tinha sido nada, ele respondeu o que respondem todas as pessoas que são respondidas com o "nada" que é dizer "você disse alguma coisa, então não pode ser nada" e ela se ateve a responder "eu não sei, você tem andado meio distante". "é que eu estou dirigindo", ele respondeu. Aí ela sabia que viria toda aquela conversa sobre como existem certas funções na vida nas quais a gente tem que se concentrar e que ela não pode querer sempre essa atenção irrestrita, essa atenção de quem é a única coisa existente no mundo porque ela não é a única coisa existente no mundo. Teve preguiça de toda a justificativa e não respondeu nada, embora tenha pensado em dizer "imagino que a sua vida seja uma grande estrada, nesse caso, e que você tenha que dirigir o tempo todo". Não disse nada. Comia um pacotinho de balas de goma e fazia questão de devorar todas as gomas vermelhas e amarelas e deixar somente as verdes, que ela sabia ser as que ele menos gostava. Tinha esse tipo de vingança infantil, embora ele também não fosse assim tão adulto. Em uma de suas últimas brigas ele resolveu cortar contato por três dias inteiros e ficar sem atender telefonemas ou responder mensagens simplesmente porque ela deveria aprender que certos comportamentos não são toleráveis. Ela respondeu essa malcriação dizendo que não conversar sobre os problemas também não é exatamente um comportamento tolerável depois que se passa dos quinze anos, e com isso acabou por aumentar ainda mais a distância que já havia entre os dois.
Era por causa dessa tal distância que ela não entendia o porquê da viagem. Tinham passado semanas sem se falar direito. As conversas todas pareciam de um esforço imenso. Os assuntos não fluíam, ele não parecia interessado, ela já havia se desencantado com a falta de interesse e passava dias olhando pro celular dizendo pra si mesma que não deveria tentar contato algum porque isso era um jeito de postergar o sofrimento, e os sofrimentos, depois de uma certa idade, não devem ser postergados. Dias depois ele liga dizendo que ia estar na cidade e pergunta se ela não quer passar os últimos três dias das férias na casa dele na capital. Primeiro ela pensou em recusar, porque não tinha nada a ver com os surtos dele de solidão. Depois achou melhor aceitar e achou que era coisa montada pelo destino (ela tinha encasquetado com essa coisa de destino). Quando se viu ali, perdida no banco de passageiro encarando com dificuldade a distância que se formava entre eles, achou que teria sido melhor não ter aceitado nada. Ela se sentia como quem quebra um vaso e tenta colar todos os pedaços com cola, só que sem muito sucesso. Era possível ver as imensas rachaduras que já tinham se formado naquela história que formava anos. Alguma coisa ainda continuava. Ela não sabia dizer o que era, nem tampouco ele. Só sabiam que alguma coisa ainda restava, de vez em quando. De vez em quando ainda se olhavam e se sorriam e aí lembravam um pouco aquele casal de cinco anos atrás. Por vezes se enfiavam em longas conversas sobre os mais diversos assuntos e, dessa maneira, se achavam os dois seres humanos mais bem conectados da face da terra. Depois acabavam por cair na mesmice. Ela olhava fixamente para um ponto qualquer no quarto enquanto ele parecia se interessar sempre pelas coisas que não eram ela. Por vezes era o trabalho, depois os amigos; de vez em quando ele arranjava passatempos estranhos dos quais nunca havia gostado e se dedicava a eles com afinco. Ela continuava com a sua vida, porque às vezes a vida não nos dá muita escolha a não ser a de continuar, e tentava se distrair com qualquer outra coisa que não fosse esse imenso abismo que se formava entre os dois. Era um abismo que dava pra pegar com a ponta dos dedos. O abismo se sentia no ar. Era um abismo que dava pra respirar. A respiração dela ao andar angustiada pelas ruas da cidade onde se conheceram era respiração de ar de abismo. Respirar o ar do abismo é como respirar angústia. Aquela era sim uma viagem abismática. No começo ela achou que não, que podia ser que ao entrar no carro uma espécie de sintonia tomasse conta dos dois e aquela fosse a viagem de suas vidas. Não foi. Cada quilômetro de silêncio era uma pontada no coração. Nela se juntava um emaranhado de coisas pra dizer. Coisas que não se pode dizer assim, despretensiosamente. São coisas dessas que vem da alma. A vida às vezes é inundada de verdades e as verdades são umas coisas tão brutas que quase se pode pegar com a mão. Não se pode jogar as verdades assim, no meio de uma viagem que parece apontar pro abismo. As verdades só são ditas no conforto da intimidade ou no limite da morte. Ela sabia que diria tudo aquilo que não sabia como dizer quando percebesse que ele havia mesmo se perdido dela. Antes disso se atinha a comer todas as gomas que ele gostava e lhes deixar somente as verdes. As grandes feridas da vida começam nos pequenos descuidos.
Andaram mais alguns quilômetros, ele perguntou se ela sentia fome e ela respondeu que não. "Tinha pensado em não parar pra comer, assim a gente não perde tanto tempo, são só duas horas de viagem", ele completou. Ela disse que não tinha problema algum, que tinha uns salgadinhos na bolsa e que era até melhor não parar mesmo. "Você nunca tem muito tempo a perder, não é mesmo?" ela lhe disse com um tom meio triste. Ele respondeu com um olhar de desde-sempre. Continuaram a viagem. Uma hora se passou e ele continuava mudando as músicas do rádio com certa violência. Ela já tinha desistido de mandar voltar e ouvia seu próprio mp3. Pensava na vida, olhava as paisagens da estrada. Sentia uma certa paz quando andava na estrada. A paz de não pertencer a lugar nenhum. Às vezes parava os olhos nele que parecia não enxergar mais nada além do caminho que percorria. Ela se sentia como coisa invisível. Ficava encolhida no banco do passageiro cantarolando baixinho umas canções e se perguntava o que é que ela tinha ido fazer ali, naquele carro, com aquele homem que parecia deslocado do mundo e, senão do mundo, ao menos muito deslocado dela. Onde é que tinha acontecido o acidente que lhes matou? Ela não sabia a resposta. Talvez não tivesse havido ainda um acidente grave, e nem uma morte, mas que alguma coisa havia, havia. Vez ou outra ela pensava que só podia ser caso de ter se apaixonado por outra mulher. E se fosse, quem seria? Teria essa mulher menos defeitos? Moraria essa mulher mais perto, de um jeito em que se ele se sentisse sozinho ele poderia ligar pra ela e ela lhe acolheria no meio da noite com braços quentes? Estaria ele planejando um outro futuro onde ela não estaria mais inclusa e ela só seria informada disso tudo quando fosse tarde demais pra sair disso tudo sem cair num abismo e morrer? Preferia não pensar. Esses pensamentos são daqueles que começam pequenos e depois invadem a casa, roubam toda a sua paz e te tiram o sono. Há coisas que é melhor não antever. Da janela do carro já vislumbrava o trânsito pesado da cidade que não era sua, mas era a cidade dele. Ele colocou a mão no ombro dela e disse sorrindo "acho que chegamos". Nessas pequenas horas doces ela quase acreditava que o problema dele era mesmo a estrada, o trânsito, o trabalho e que ela continuava sendo alguma coisa importante que ele fazia questão de guardar, mesmo sabendo que essa coisa importante lhe exigia mais trabalho que ele gostaria de ter. Chegaram. Ele segurava todas as malas e ela segurava o travesseiro como uma espécie de escudo. A casa dele era uma dessas casas pequenas onde moram duas pessoas que dividem o aluguel porque custa caro morar em grande cidades. Tinha uma cozinha, uma sala, dois quartos e um banheiro. O quarto dele não era grande nem pequeno. Tinha um armário, uma cama e uma mesa onde ficava o computador. Na parede, as fotos que um dia foram dela, davam lugar a fotos quaisquer de gente quaisquer. Dentro de uma das gavetas ele guardava as cartas e os bilhetes que tinham trocado nos últimos cinco anos. Às vezes ela se sentia aquilo. Nada mais que uma gaveta fechada na vida dele. Ele parecia não ver nada com essa fatalidade que ela via. Pra ele a vida era um emaranhado de aleatoriedades e ela era mais um deles. Só que ela era uma dessas aleatoriedades que, de quando em vez, pareciam fazer algum sentido a mais. Algo como se a malha do universo tivesse tido um erro e grudado aquele acontecimento como uma espécie de acontecimento chave. Ao mesmo tempo que fazia parte do caos os reencontros, podia também ser coisa montada pelo destino. Mas ele não acreditava em destino. Ela também não, mas de uns tempos pra cá tinha encasquetado.
Ele sentou na mesa, ela perguntou se ele não queria um café. Ele disse que aceitava, e indagou se ela mesmo fazia. "Sim, faço, tenho feito muito café pra me manter acordada na vida". Ele riu da mesa dizendo "Acho que só assim, mesmo". Ela passava o café e respirava ar de abismo. Se sentia presa dentro daquelas paredes brancas que nunca tinham soado como um lugar que pertencia a ela. Parecia um lugar que pertencia a todo mundo, onde ela não tinha espaço e nem conseguia pegar com naturalidade as coisas pra fazer um simples café. Disfarçava bem, entretanto. Sabia onde ficavam as coisas, devolvia no lugar com certa destreza. Disfarçava o medo do desconhecido. Passava o café e tinha vontade de chorar. O desconhecido dói. As grandes decepções da vida começam nos pequenos descuidos. Colocou o café na garrafa, serviu as xícaras, botou uma cadeira do lado dele na mesa, serviu o café, tomou um gole e encostou a cabeça no ombro dele. Queria dizer muitas coisas, mas a distância parecia embaralhar as palavras e, se ela dissesse alguma coisa, tudo soaria um idioma estranho que nem ele e nem ela conseguiriam decifrar. Era tudo silêncio. As paredes brancas do apartamento pequeno ecoavam o silêncio. Os vizinhos logo bateriam na porta reclamando do imenso barulho que o silêncio fazia. Pôs-se a chorar. O choro é tudo que não se consegue dizer traduzido em coisa palpável. Molhava com lágrimas a camiseta branca dele e ele a olhava com olhar de susto. Ela não dizia nada. Só chorava e quanto mais chorava mais se aninhava naquele ombro que já não parecia assim tão aconchegante. Abraçava ele cada vez mais forte e chorava mais doído. Ele não dizia nada. Só deixava ela ficar. De uma hora pra outra achou monte de palavras e desandou a falar "é que eu não agüento mais. isso, você, isso. você. você…a gente, você, isso…quantos anos de casados nós fizemos? trinta, vinte e sete, sessenta? isso… você, sabe, isso tudo… a gente, essa casa… a viagem a viagem… elas, sei lá quem são elas….você, você, isso… há quanto tempo você me desama em segredo? duas, três semanas? há quanto tempo isso, você, a gente… a gente… a gente, você que não fala comigo eu que não sei nada… sabe, você, sempre isso, você… há quanto tempo isso? por que você não me diz mais nada, nunca? sempre isso, a gente… você, a distância. o silêncio, esse teu silêncio imenso. eu quero matar esse teu silêncio… quantos anos tem esse silêncio? me diz qualquer coisa…sabe? você, não esse silêncio, me manda embora me xinga me diz que ama outra… dez delas…não sei… esse silêncio, não quero esse silêncio…fala. isso, é essa a palavra: fala". Ele não dizia nada. Olhava estático pros olhos vermelhos e pro nariz inchado dela que ficava um pouco feia quando chorava, embora trouxesse em si um pouco de um desses bichinhos que dá vontade de cuidar. Mas amor não tem a ver com pena, não se pode amar ninguém com o mesmo sentimento que se ama um cachorrinho que se perdeu da mãe. Também não era isso que ele sentia por ela, embora fosse um pouco. Ele sabia que havia alguma coisa nela só que não sabia explicar o que era. Por isso o silêncio. Um silêncio de não saber. As lágrimas caiam e ela repetia baixinho "fala… você, a gente… fala". Ele não falava. Segurava com força as mãos pequeninas e suadas dela enquanto ela suplicava que ele falasse. O silêncio tomava conta do apartamento todo. Tinha sido uma viagem abismática. E quando se está a beira do abismo todos sabem que só existe dois caminhos possíveis: ou se pula e morre, ou se volta pra trás e se tenta outro caminho. Ele olhava ela fundo nos olhos e as palavras não saiam. De repente ele puxa ela pelo braço, chacoalha e finalmente diz. As palavras saiam como se tivessem tirando dele farpas que já doíam há muito tempo. "Eu não sei… de você, da gente… de tudo isso. a gente, essa casa, essa viagem… de você eu não sei. de você eu nunca sei e é por isso que você acaba sempre estando aqui de novo. essa casa, essas paredes, a gente, cinco anos. não sei. tem que saber? tem que saber tudo? eu não sei o que te dizer e aí fico em silêncio. não é essa a causa de todo o silêncio? o medo do desconhecido? de você eu não sei. tem que saber?". Ela não sabia se tinha que saber. Saber o quê exatamente? Exatamente o que ela esperava ouvir? Ela também não sabia. "Não sei se tem que saber", ela respondeu. "mas do que tem que saber a gente sabe… você, a gente… existe qualquer coisa…você aqui, eu te convidei, eu te busquei em casa". Ela olhava pra ele tentando compreender. Compreendia, mas tinha medo. Medo das coisas sem nome. Certamente haveria de ter uma palavra inventada pra esse sentimento que é e não é. É, porque existe. Não é porque não se sabe por quanto tempo nem o que é exatamente. Gostar parece pouco, amor parece demais, atração não contemplava o que existia de sublime. Não tem nome. Era isso. O que existia não tinha nome. Certamente haveria de ter uma palavra inventada para esse sentimento que é e que não é. E o que era?
Era isso. Ela pensava em dizer tudo aquilo, mas dizer tudo aquilo e calar tudo aquilo parecia ser mais ou menos a mesma coisa. Tudo aquilo, isso. Isso que é gostar de estar com ele e gostar também do jeito torto com o qual ele fica em silêncio. Odiar tudo nele. Odiar todos os cinco anos e ao mesmo tempo isso de querer estar junto a aceitar uma viagem. Não querer mais existir se a existência contemplar existir com ele na vida e então decidir tirar ele da vida. Voltar atrás e colocar ele na vida depois de uma conversa de encantamento. Se sentirem, ela e sua eloqüência, maltratadas pelos períodos curtos dele. Ficar se perguntando baixinho enquanto ele dirige "e a gente? o que é a gente, afinal?". Saber que não vai haver resposta pro silêncio e nem pra distância. Suspirar ar de abismo quando ele se distancia e saber que o próximo passo pode ser a morte deles dois. Continuar respirando ar rarefeito mesmo assim e dar dois passos pra trás prometendo tentar de novo. Tentar de novo e se perguntar se haverá um dia em que tudo isso, a gente… você, a distância, esse teu silêncio imenso serão alguma coisa a mais que isso que já existe. Se perguntar se precisa mesmo de mais do que isso que já existe. Cinco anos. Um primeiro beijo na sorveteria. Nos encantamos, desencantamos, apaixonamos, desapaixonamos e quisemos quase casar com outras pessoas mas daí isso, de volta, isso… a gente. Existe qualquer coisa. Qualquer coisa nela que é irritante e horrível e diz essas coisas espaçadas e lhe deixa só as gomas verdes numa infantilidade que não tem nem nome, mas depois é isso que sempre foi. Qualquer coisa dessas que é ela e ela é o que existe. Ela é o que ele deixa em silêncio. Ele é o que ela exacerba em falar. Certamente há de haver uma palavra inventada pra esse sentimento que é e que não é. Certamente, mesmo não havendo palavra alguma, existe o sentimento. Certamente se há uma coisa que as relações humanas gostam de fazer é se encaminhar pro abismo. Todos nós sabemos, que quando se chega no abismo só existem duas possibilidades: ou se morre, ou se volta pra trás. Deram eles dois passos pra trás e ficaram ali. Certamente ainda sofrerão de silêncio e grito desse sentimento que carece de palavra inventada pra se nomear, mas não carece de nada pra existir. Existe. Existe e inunda o apartamento de paredes brancas esse sentimento sem-nome toda vez que eles sorriem juntos por alguma bobagem; se beijam com alguma paixão; agem em sincronia invejável; versam animadamente sobre assuntos que amam; se admiram em silêncio. Talvez, um dia, não exista nenhuma outra solução a não ser pular o abismo que mata. Ela pensava isso. Talvez o silêncio dele ainda mate, já esteja matando. Talvez ela e a eloqüência dela resolvam pular antes mesmo de saber qualquer coisa de concreto. Talvez, no fim, se deva acreditar que estão os dois presos em uma dessas improbabilidades do caos da vida que não fazem nenhum sentido. Talvez se deva acreditar que isso, no fim, é coisa montada pelo destino. Ninguém acredita muito em destino, mas uma hora ou outra a gente acaba encasquetando.